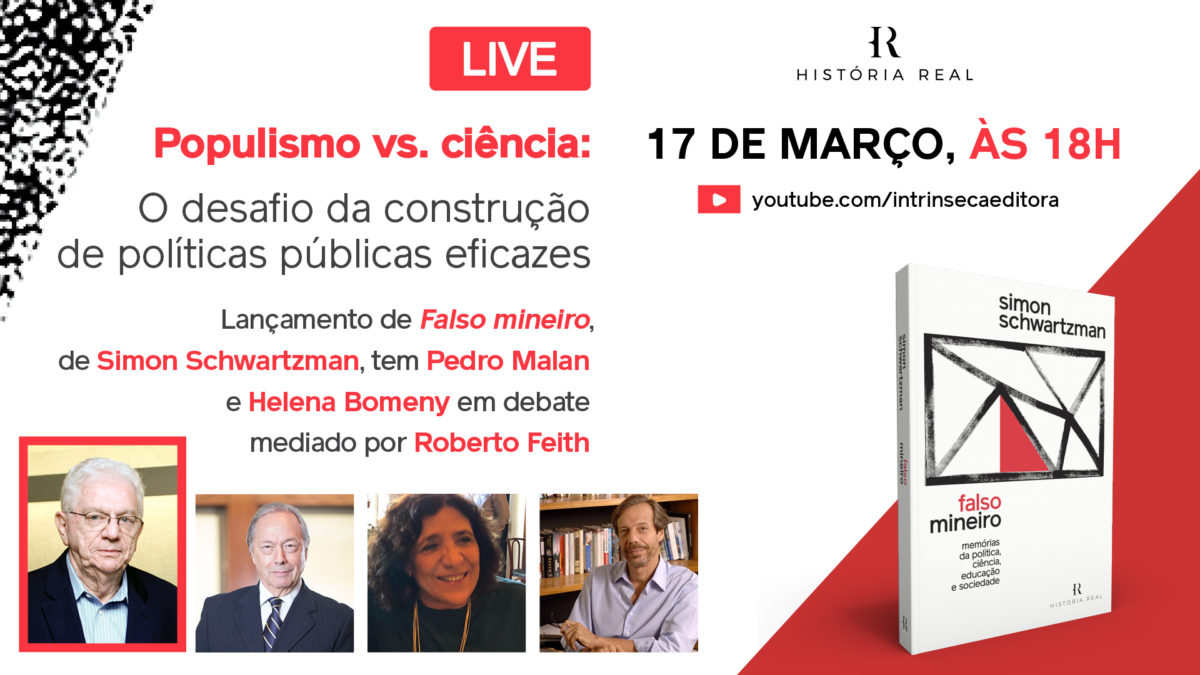(Publicado em O Estado de São Paulo, 8 de julho de 2022)
José Serra entra para a história como o único Senador que votou contra o estupro da Constituição e do teto orçamentário perpetrado pelo Congresso. É o último da geração de políticos tucanos que lutaram contra a ditadura militar, saíram do antigo MDB para criar o PSDB quando o partido foi dominado pela política corrupta de Orestes Quércia, conseguiram deter a inflação e reorganizar a economia do país, dando início às políticas sociais, e entregaram o governo de forma civilizada em 2002, quando Lula ganhou as eleições.
Espero que a “Pec Kamikaze” não seja suficiente para manter no poder o bando fascista de Bolsonaro, mas Lula não ajuda. Como os antigos reis Bourbons, ele nada esquece e nada aprende. Seu comentário sobre a PEC foi que, no seu governo, os orçamentos seriam aprovados com a “participação da sociedade”, como se quatro mandatos presidenciais não bastassem para saber que não é a assim que orçamentos federais são aprovados e administrados. Sobre os preços dos combustíveis, defendeu a reestatização da Petrobrás, que seus governos levaram quase à falência. Antes havia falado contra os políticos “sem alma” que só se preocupam com o teto de gastos e o equilíbrio orçamentário, e não com as necessidades do povo sofredor. Como se só ao “mercado” interessasse ter uma economia vigorosa e estável, capaz de criar empregos e pagar bons salários, e que os recursos públicos sejam destinados a investimentos e políticas sociais de qualidade, e não aos bolsos dos políticos e das corporações com mais capacidade de pressão. Sobre os escândalos de corrupção no Ministério da Educação, o único que fez foi balbuciar algo sobre o direito de defesa dos acusados, como que temendo o fim do “garantismo” judiciário que faz que, no Brasil, todos os crimes de políticos sejam perdoados. E, machão, não se comoveu com os crimes de assédio sexual que derrubaram o presidente da Caixa Econômica, dizendo que não era policial nem procurador.
Rejeitados pela maioria da população, os dois candidatos entram em um processo eleitoral que será turbulento, e cujo ganhador herdará um país exausto e em frangalhos. Como explicar que não tivesse surgido um terceiro nome? Temos Simone Tebet tentando ocupar este espaço, mas que começa enfraquecida pelo próprio processo em que sua candidatura se formou, por uma negociação interminável dos interesses locais dos velhos partidos. E temos Ciro Gomes, sozinho, golpeando à esquerda e à direita, incapaz de sair de sua bolha. Mesmo que uma destas candidaturas consiga crescer – o que não é impossível, porque os eleitores decidem seus votos na última hora, como vimos recentemente na Colômbia – o futuro presidente dificilmente terá condições de pôr fim à crise fiscal e à usurpação dos recursos públicos pelos congressistas do centrão, que puxam o país para o fundo.
Por três vezes tentamos deixar os políticos de lado elegendo um presidente “contra tudo que está aí”, e os três casos – Jânio, Collor e Bolsonaro – resultaram em desastre. Os exemplos recentes de líderes populistas na região, como Lopes Obrador no México e Petro Castillo no Peru, sem falar de Hugo Chávez e Maduro na Venezuela, mostram que o problema é mais geral. Em seminário recente na Fundação Fernando Henrique Cardoso, o professor Steve Levitsky lembrou dos três pilares das democracias modernas, apesar de suas imperfeições – partidos políticos estruturados, uma imprensa prestigiada e capaz de formar a opinião pública, e grupos de interesse fortes e diversos comprometidos com a estabilidade política. Hoje estes pilares estão minados pelos “três Ps” mencionados em artigo recente de Moisés Naím – o populismo, a polarização, acentuada pelas políticas identitárias, e a pós-verdade das redes sociais.
Quatro anos atrás, com o derretimento do PT, a crise econômica se aprofundando e as manifestações de protesto crescendo, surgiram várias tentativas de organizar movimentos que buscavam substituir os políticos tradicionais por uma nova geração de líderes, mais bem formados e comprometidos com os temas da desigualdade social, aperfeiçoamento do Estado, moralidade pública e desenvolvimento econômico e social. Mas foram tentativas pequenas e dispersas, que não conseguiram fazer muita diferença. Tomara que, no futuro, possa haver uma convergência virtuosa de novos líderes e uma nova geração de políticos, retomando as bandeiras dos velhos tucanos e trazendo para o país novas perspectivas.
Falavam tempos atrás que o Brasil crescia de noite, quando os políticos dormiam. Lembro de o velho Antônio Carlos Magalhães dizendo que, durante a noite e nos fins de semana, nos conchavos políticos no Palácio de Ondina, desfazia as boas medidas que que tomava durante o dia como governador da Bahia. Em alguns momentos, de fato, os ventos da economia internacional, como os ciclos favoráveis das commodities, ajudaram a economia a andar apesar de tudo, e não faltam exemplos de políticos virtuosos e iniciativas locais e regionais bem-sucedidas que mostram que nem tudo está perdido. Mas não será fácil.