 A profunda crise econômica, política e econômica que vive o Brasil não é somente o resultado da corrupção, irresponsabilidade e equívocos das políticas implementadas pelo PT, seus aliados e muitos outros governantes nos últimos anos, mas também de efeitos imprevistos da organização institucional do país estabelecida pela “Constituição Cidadã” de 1988, hoje cheia remendos e curativos, que a tornam cada vez mais complicada e impossível de cumprir. Faz muito sentido, assim, o “Manifesto à Nação” publicado pelos juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Bierrenbach e José Carlos Dias no jornal O Estado de São Paulo de 9 de abril de 2017, proclamando a necessidade de uma nova Constituição, a ser escrita por uma nova Assembleia Constituinte originária e independente dos partidos políticos que aí estão.
A profunda crise econômica, política e econômica que vive o Brasil não é somente o resultado da corrupção, irresponsabilidade e equívocos das políticas implementadas pelo PT, seus aliados e muitos outros governantes nos últimos anos, mas também de efeitos imprevistos da organização institucional do país estabelecida pela “Constituição Cidadã” de 1988, hoje cheia remendos e curativos, que a tornam cada vez mais complicada e impossível de cumprir. Faz muito sentido, assim, o “Manifesto à Nação” publicado pelos juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Bierrenbach e José Carlos Dias no jornal O Estado de São Paulo de 9 de abril de 2017, proclamando a necessidade de uma nova Constituição, a ser escrita por uma nova Assembleia Constituinte originária e independente dos partidos políticos que aí estão.
Concordo com a ideia, embora não pense que a nova Constituição deva consagrar exatamente os princípios que os autores estão propondo, e sabendo que não existe nenuma garantia que uma Assembleia Constituinte eleita por um plebiscito seja formada por pessoas imunes aos equívocos e interesses corporativos que levaram os legisladores dos anos 80 a desprezar o projeto de Constituição elaborado pela Comissão Afonso Arinos e escrever e elaborar uma constituição muito pior.
Mas, afinal, o que estava errado na Constituição de 1988? Os autores do manifesto dizem que “a Carta de 88 foi recheada de casuísmos e de corporativismos. Estabeleceu um absurdo regime político que se nutre de um sistema pseudopartidário, excessivamente fragmentado e capturado por interesses de corporações e de facções político-criminosas. Isso torna excessivamente custosa a governabilidade, criando uma relação tóxica entre os Poderes, o que favorece a corrupção, o tráfico de influência e os rombos devastadores nas contas públicas”. Além deste diagnóstico, que explica boa parte da crise política e institucional, existe um outro, feito por economistas como Monsueto Almeida, Marcos Lisboa e Samuel Pessôa, que mostram como a Constituição de 1988 criou uma série de direitos e atribuições de responsabilidades às diversas esferas de governo que criam obrigações de gastos financeiros que vão além da capacidade de geração de riquezas do país, cujo exemplo mais importante, mas não único, é o sistema previdenciário, e que explicam boa parte da crise econômica. Sem falar da grande confusão do sistema federativo, com dezenas de estados e municípios insolventes e cheios de atribuições que não conseguem cumprir.
A discussão sobre a Constituição que precisamos deve começar pela ideia central de que seu papel é estabelecer os princípios gerais que devem presidir o funcionamento na sociedade, e não, simplesmente, criar uma lista detalhada de leis que só diferem das ordinária por serem mais difíceis de ser modificadas. Estes princípios gerais se referem, primeiro, aos direitos dos cidadãos, e, segundo, ao formato institucional do país.
Os direitos, conforme um texto clássico do sociólogo T. H. Marshall sobre a Inglaterra, podem ser divididos em três categorias, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis são, essencialmente, os direitos das pessoas: liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, de não ser preso sem um processo legal, o direito à propriedade, o direito à vida e ao uso do próprio corpo, e igualdade de todos perante a lei, e que permitiram o desenvolvimento das economias de mercado. Não são direitos absolutos – o direito à expressão não inclui o direito à calúnia, o direito à propriedade não exclui a existência de impostos ou desapropriações por interesse público, e o direito ao corpo, que é um conceito mais moderno, pode ou não incluir o direito ao aborto, ao uso de drogas e à eutanásia. A Constituição americana inclui o famoso “Second Amendment” que garante o direito de usar armas, cujos limites tem sido objeto de permanentes disputas.
Os direitos políticos são os direitos dos cidadãos, como participantes em uma sociedade democrática: o primeiro deles é o de votar e ser eleito, e inclui também os direitos de associação e formação de partidos políticos. Um princípio comum a todas as sociedades democráticas é o de que “todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”, mas isto não basta: é preciso também dizer como este poder deve ser exercido e como o sistema político e econômico devem ser organizados para que os princípios fundamentais de igualdade política e representatividade não sejam ameaçados. Isto abre todo um capítulo sobre a organização do sistema representativo e governamental, que requer discussão à parte.
O terceiro conjunto de direitos são os sociais: aqui falamos do direito à educação, ao trabalho, à saúde, à aposentadoria, à igualdade de oportunidades. O reconhecimento dos direitos sociais é muito mais recente do que o dos direitos civis e políticos, e tem sua principal origem no “welfare state”, o estado de bem-estar social desenvolvido na Europa ao longo do século 20, e consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pelas Nações Unidas em 1948, que incluía também o reconhecimento dos direitos à ciência e à cultura. Uma diferença radical entre os direitos sociais, por um lado, e os direitos civis e políticos, por outro, é que os primeiros custam muito dinheiro, que precisa vir de alguma parte. A proteção aos direitos civis e políticos é atribuída, geralmente, ao Estado, através da sua ação de polícia e pela adjudicação da justiça pelos tribunais. Por analogia, a responsabilidade pelos direitos sociais também termina sendo atribuída ao Estado, que precisa assim criar amplos sistemas de educação, saúde, aposentadorias, garantir empregos e reduzir as desigualdades sociais e econômicas, embora muitos destes benefícios possam ser obtidos junto ao setor privado. Os direitos sociais e políticos podem ser protegidos por um estado relativamente pequeno, mas os direitos sociais, sobretudo quando estabelecidos como obrigação por parte do setor público, dependem de um Estado muito maior, mais rico e mais complexo, que nem sempre tem os recursos e a competência para fazer o que a Constituição requer. No Brasil, a Constituição de 1988 declara que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, o que faz com que juízes obriguem o SUS a usar grande parte de seus poucos recursos no pagamento de tratamentos caríssimos e não previstos para quem tenha um bom advogado para defender este direito.
Além dos direitos, a Constituição precisa dizer quais são as principais instituições políticas do país, e como devem funcionar. Os dois pontos fundamentais, aqui, são o sistema representativo e a formação e divisão dos poderes. Dizer que todo o poder emana do povo não significa que o povo pode exercer diretamente o poder. Sempre que se tentou isto, passando por cima das instituições, o que resultou é o autoritarismo e o fascismo, que se caracterizam justamente pelo apelo direto às “massas” mobilizadas em praça pública. A função dos sistemas representativos, com partidos políticos e sistemas eleitorais, é escolher um número limitado de pessoas que possam governar com autoridade e de forma legítima em nome da maioria, garantindo, ao mesmo tempo, a proteção legal aos direitos das minorias. Os sistemas representativos estão em crise em quase toda parte, mas alguns, como o brasileiro, em que os eleitores votam em uns e acabam elegendo outros, e em que proliferam partidos de aluguel, são particularmente ruins. Quanto à divisão de poderes, não há princípio melhor do que o da separação entre quem legisla, quem executa e quem julga, com os necessários “checks and balances”, mas existem diversos formatos possíveis, e a experiência mostra que o presidencialismo exacerbado, que tentamos copiar dos Estados Unidos, não parece ser a melhor opção.
Sobre as propostas específicas dos autores do Manifesto à Nação, algumas fazem muito sentido, como a eliminação dos privilégios por cargo ou função e o fim das coligações partidárias, e outras precisam de uma discussão muito mais aprofundada, como a do voto distrital puro, cuja vantagem seria deixar claro para os eleitores quem são seus representantes, mas que traria grandes problemas, como a definição de como seriam desenhados os distritos (basta ver a grande confusão norte-americana com o “gerrymandering”) e a forte sub-representação das minorias que os sistemas proporcionais mistos procuram evitar. Em termos mais gerais, a principal crítica que se pode fazer é que os autores propõem substituir o regime democrático baseado na autoridade legítima do mandato dos governantes por um poder político totalmente acuado, debilitado e submetido a permanentes processos plebiscitários, na suposição errônea de que “o povo” sempre sabe mais. É uma postura compreensível, dado o estado de degeneração a que chegaram nossas instituições de governo, mas os riscos do populismo não podem ser desprezados. Além disto, eles não mencionam os direitos sociais, nem as questões relativas ao pacto federativo. Mas não se poderia esperar que um pequeno texto inicial tratasse de tudo.
Constituições não se trocam toda hora. Isto acontece quando existem grandes rupturas políticas e institucionais, depois de uma guerra ou uma revolução, e as novas constituições acabam sempre refletindo, de alguma maneira, os valores e as correntes de ideias que predominam em seu momento. Não passamos por nenhuma guerra ou revolução, mas por um terremoto suficientemente profundo para justificar que a proposta seja discutida com a profundidade que merece.
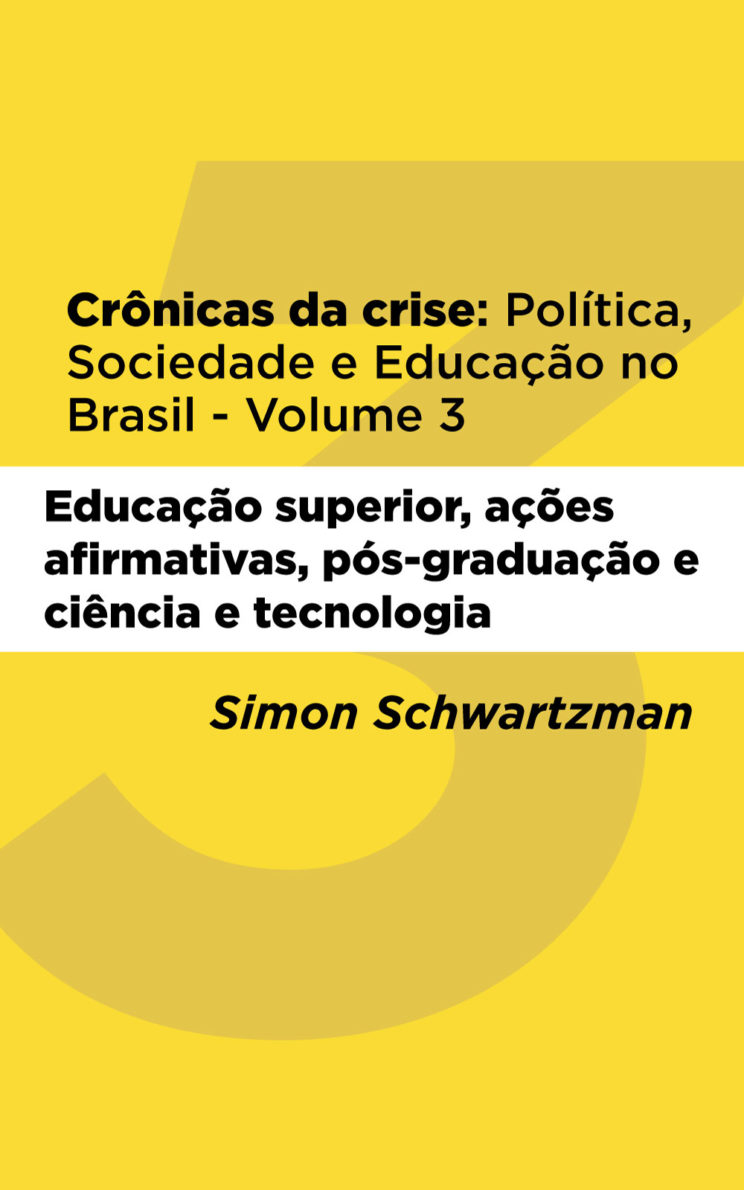
 Comparto o artigo de Bolivar Lamounier publicado no
Comparto o artigo de Bolivar Lamounier publicado no A profunda crise econômica, política e econômica que vive o Brasil não é somente o resultado da corrupção, irresponsabilidade e equívocos das políticas implementadas pelo PT, seus aliados e muitos outros governantes nos últimos anos, mas também de efeitos imprevistos da organização institucional do país estabelecida pela “Constituição Cidadã” de 1988, hoje cheia remendos e curativos, que a tornam cada vez mais complicada e impossível de cumprir. Faz muito sentido, assim, o “Manifesto à Nação” publicado pelos juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Bierrenbach e José Carlos Dias no jornal O Estado de São Paulo de 9 de abril de 2017, proclamando a necessidade de uma nova Constituição, a ser escrita por uma nova Assembleia Constituinte originária e independente dos partidos políticos que aí estão.
A profunda crise econômica, política e econômica que vive o Brasil não é somente o resultado da corrupção, irresponsabilidade e equívocos das políticas implementadas pelo PT, seus aliados e muitos outros governantes nos últimos anos, mas também de efeitos imprevistos da organização institucional do país estabelecida pela “Constituição Cidadã” de 1988, hoje cheia remendos e curativos, que a tornam cada vez mais complicada e impossível de cumprir. Faz muito sentido, assim, o “Manifesto à Nação” publicado pelos juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Bierrenbach e José Carlos Dias no jornal O Estado de São Paulo de 9 de abril de 2017, proclamando a necessidade de uma nova Constituição, a ser escrita por uma nova Assembleia Constituinte originária e independente dos partidos políticos que aí estão.
 Com as revelações que se sucedem sobre os esquemas de corrupção nos governos do PT, chama a atenção o fato de que ainda existem tantos, sobretudo em alguns meios intelectuais, que continuam apoiando o governo com diferentes argumentos, que vão desde que tudo não passa de invenções (o argumento da negação), ou que são todos pequenos pecados de menor importância se comparados com tudo o que foi feito de bom nos últimos anos (o argumento ideológico) até que na verdade todos são assim, e então não tem problema (o argumento cínico).
Com as revelações que se sucedem sobre os esquemas de corrupção nos governos do PT, chama a atenção o fato de que ainda existem tantos, sobretudo em alguns meios intelectuais, que continuam apoiando o governo com diferentes argumentos, que vão desde que tudo não passa de invenções (o argumento da negação), ou que são todos pequenos pecados de menor importância se comparados com tudo o que foi feito de bom nos últimos anos (o argumento ideológico) até que na verdade todos são assim, e então não tem problema (o argumento cínico).



