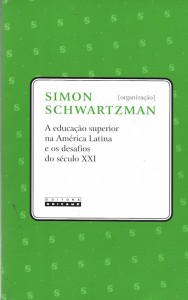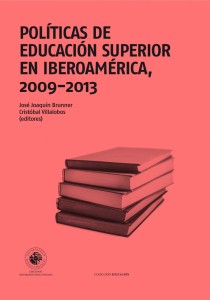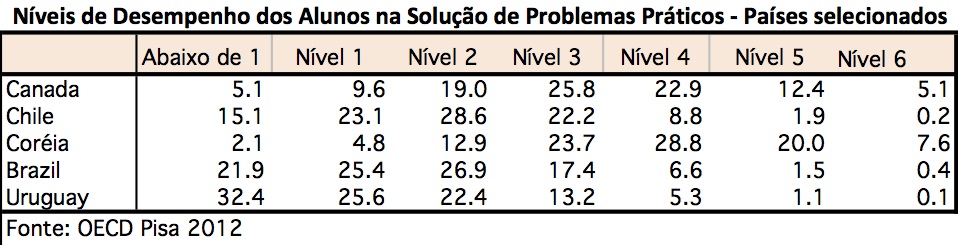Fiquei chocado com o ataque generalizado às fundações universitárias feito por uma matéria conjunta dos principais jornais do país, entre os quais O Estado de São Paulo e O Globo. Entrevistado sobre isto por um repórter do Estado de São Paulo, lembrei que as fundações são um caminho encontrado pelas universidades para sair da camisa de força do serviço público que as mantêm congeladas e isoladas da sociedade, e que o correto seria transformar todas as universidades em fundações regidas pelo direito privado, e não acabar com a pouca flexibilidade que as fundações trazem. Tambem observei que as eventuais situações de abuso e falta de transparência poderiam ser facilmente controladas por uma supervisão e regras claras de transparência, mas é absurdo pensar que flexibilidade e corrupção são a mesma coisa, e que não há salvação fora da burocracia do serviço público, quando é exatamente o contrário.
O assunto, infelizmente, é antigo. Em 1988 houve também um ataque generalizado às fundações, e um decreto governamental que determinou sua extinção, mas prevaleceu o bom senso e foi cancelado. Reproduzo abaixo o artigo que escrevi a respeito, publicado no Jornal do Brasil em 1988.
As Fundações Universitárias (Jornal do Brasil, 9 de maio de 1988)
Ainda não se sabe se o governo federal vai realmente modificar o artigo 40 do decreto 95.904, do dia 7 passado, em que se davam 30 dias para que as universidades federais extinguissem cerca de 40 fundações por elas criadas como forma de sair da camisa de força que lhes dá sua condição de autarquia pública. Estas fundações são, tipicamente, entidades não lucrativas de direito privado, estabelecidas e controladas por universidades e escolas superiores, através das quais convênios de pesquisa são assinados, serviços de extensão e assistência técnica remunerados são feitos, e hospitais universitários são administrados. O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras solicitou ao Ministro da Educação que intercedesse junto à Presidência para pelo menos prorrogar o prazo para 180 dias, para dar tempo a um exame mais aprofundado do problema, evitando, inclusive, a demissão de quase 7 mil profissionais da área de saúde, sem falar da inviabilização de um sem número de projetos de pesquisa hoje financiados pela FINEP, CNPq e outras instituições. Esta determinação veio no bojo da extinção da URP para servidores federais, e passou quase despercebida, não provocando, nem de longe, reação semelhante à que existe quanto à proibição temporária de contratação de novos professores pelas universidades federais, apesar de ser possivelmente muito mais grave.
A justificativa formal para a determinação é que estas fundações são ilegais, por terem sido estabelecidas por meros atos administrativos, e há um parecer do Tribunal de Contas da União sugerindo seja sua extinção, seja sua melhor regulamentação. Esta regulamentação é, efetivamente, necessária, já que fundações deste tipo podem ser, se mal utilizadas, uma porta aberta para o desvirtuamento das funções universitárias, e a apropriação, para uso privado, de bens públicos. Assim, em um exemplo fictício, os professores de uma faculdade de arquitetura poderiam, através de uma fundação deste tipo, vender serviços feitos durante suas horas de trabalho em regime de dedicação exclusiva, utilizando-se de equipamentos e materiais fornecidos pelo governo, e receber por isto muito mais do que colegas que não participam das fundações. Não só haveria, no caso, uma utilização indébita de recursos públicos para fins privados, como uma concorrência desleal da universidade com os escritórios privados de arquitetura, além de gerar o desinteresse dos professores pelas atividades regulares de ensino e de pesquisa para os quais, afinal, o governo lhes paga. A maneira de evitar que estes abusos ocorram é colocar as fundações sob supervisão acadêmica, administrativa e financeira direta dos departamentos, institutos ou universidades a que estejam vinculadas, estabelecendo regras para que seus trabalhos tenham um sentido acadêmico claro, para que o tempo dedicado e as remunerações adicionais dos professores obedeçam a normas definidas, e que haja uma efetiva transferência de recursos das fundações para o interior das universidades. Estas regras não podem ser gerais, mas devem ser estabelecidas pelas universidades em cada caso.
Existe um outro tipo de oposição às fundações, no entanto, que não se mostra de corpo inteiro, mas que talvez explique melhor a truculência do decreto presidencial (que não tem agido com igual determinação ante outros casos de uso privado de funções públicas) assim como a pouca grita que a medida está causando no próprio ambiente universitário, onde poucas vozes se uniram, até agora, ao protesto dos reitores.
Esta oposição surda às fundações vem do fato de que, na prática, muitas delas têm conseguido romper o monolitismo e o controle burocrático da vida das universidades federais, criando um espaço de liberdade, diferenciação e “insubordinação” que a burocracia não tolera, e que os setores menos competentes das universidades olham com inveja e desconfiança. Elas também são vistas, por muitos, como uma forma embrionária de privatização das universidades, já que são portas através das quais recursos não orçamentários podem ser obtidos, inclusive para a complementação de salários. Através de uma Fundação, por exemplo, um instituto de engenharia de alto nível pode estabelecer relações de cooperação com a indústria local, transferir de forma efetiva a tecnologia gerada por suas pesquisas, e dar formação atualizada a seus alunos; através de uma fundação pesquisadores competentes podem obter um financiamento para um grande projeto, que traga novos equipamentos, contrate assistentes técnicos e administrativos, proporcione estágios a estudantes, e assim por diante. As fundações dão lugar ao surgimento, nas universidades, de líderes empreendedores que localizam talentos, identificam fontes de financiamento, formulam projetos e fazem crescer seus institutos e departamentos As complementações salariais feitas pelas fundações permitem às universidades reter as pessoas mais qualificadas e que atuam nas profissões mais bem pagas (médicos, administradores, economistas, engenheiros), que de outra forma terminariam por abandoná-las pelo setor privado.
Aumentar os vínculos das universidades com o mundo que as rodeia, torná-las sensíveis às demandas da sociedade, dar liberdade e iniciativa a seus professores e pesquisadores, não são tarefas fáceis, e geram inevitáveis ambigüidades, distorções e conflitos de interesse que precisam ser examinados e resolvidos caso a caso a partir dos valores maiores do desenvolvimento do conhecimento e da capacitação científica e tecnológica do país. Acabar com as fundações por um fiat administrativo pode, sem dúvida, eliminar muitos abusos. Mas este ato vai, principalmente, acabar com o “abuso” dos setores mais dinâmicos da universidade federal brasileira de tentar se diferenciar e fazer valer sua competência e sua capacidade de iniciativa. O fim das fundações será mais uma vitória dos que trabalham, sem pensar muito no que fazem, pelo achatamento monolítico e centralizado das universidades federais, e mais um passo em seu plano inclinado de decadência. <