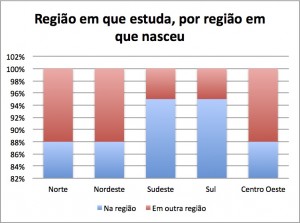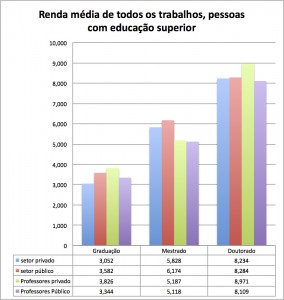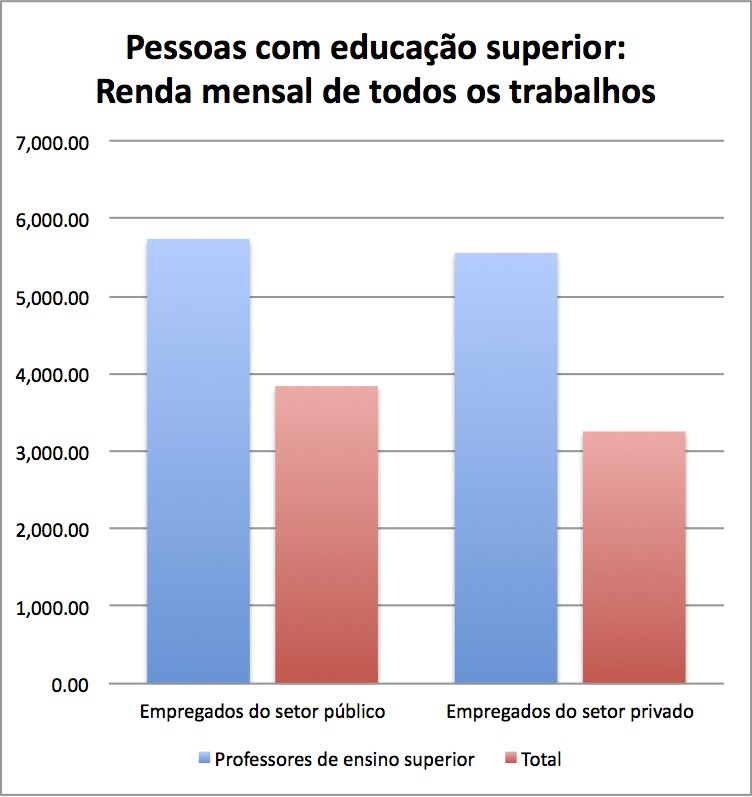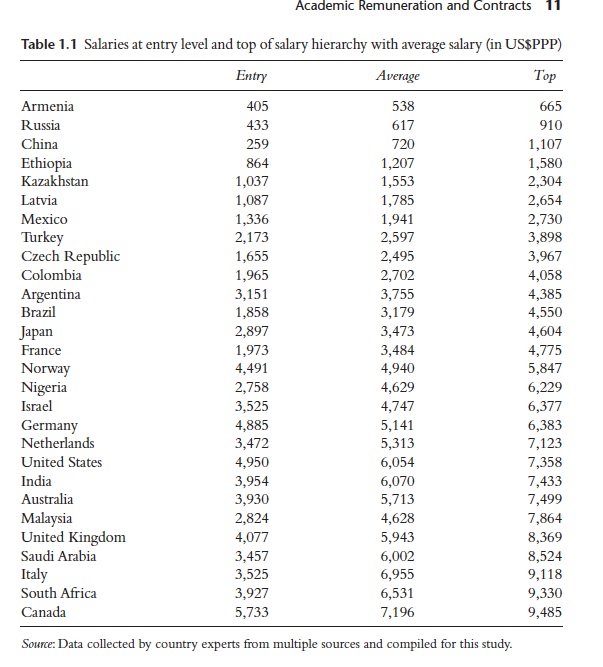Escreve Paulino Motter (*):
Escreve Paulino Motter (*):
IDEB campeão: as 10 lições de Foz do Iguaçu
Conhecida nacional e internacionalmente pelos seus atrativos turísticos, especialmente as cataratas e Itaipu, Foz do Iguaçu ganhou na última semana notoriedade pelo bom desempenho das suas escolas municipais no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). A sua rede de escolas municipais emplacou os cinco primeiros lugares entre as melhores do Paraná nos anos iniciais do ensino fundamental. Entre as 20 escolas paranaenses com maior IDEB, dez são de Foz.
O município também ganhou destaque na mídia nacional ao classificar três entre as dez melhores escolas públicas do Brasil. Se isso não bastasse, emplacou o primeiro lugar com a Escola Municipal Santa Rita de Cássia, que alcançou 8,6 no IDEB, mesma nota obtida pela Escola Carmelita Dramis Malaguti, do município de Itaú de Minas (MG).
Mas o que mais impressiona não é o fato de Foz concentrar o maior número de escolas entre as melhores do Paraná e do Brasil. Seu feito mais notável e digno de reconhecimento foi ter conseguido um IDEB médio de 7,0 para todas as 51 escolas da sua rede – bem acima das médias do Paraná e do Brasil para o primeiro ciclo do ensino fundamental, de 5,6 e 5,0, respectivamente.
O menor IDEB da rede municipal de Foz do Iguaçu foi de 6,2, nota superior à meta fixada pelo Ministério da Educação (MEC) para ser atingida em 2021. Partindo de um patamar relativamente baixo, em 2005, quando o IDEB médio da sua rede foi de 4,2, o município deu o primeiro salto em 2009, alcançando a nota média de 6,2. O IDEB 2011 veio confirmar a tendência, mostrando que todas as escolas da rede melhoraram significativamente.
Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, a taxa de evasão foi zero em 2011, resultado que evoca o delicado filme chinês “Nenhum a menos” (1999), dirigido por Zhang Yimou, sobre a jornada extraordinária uma professora de uma precaríssima escola rural que parte à procura de um aluno que havia abandonado a escola para buscar trabalho num grande centro urbano. Sem tanto heroísmo, mas com atendimento individualizado e multidisciplinar, as escolas municipais de Foz conseguiram a proeza de não perder nenhum aluno.
Muitos devem estar se perguntando qual é a fórmula utilizada pelo município para alcançar, num prazo relativamente curto, um aumento tão expressivo e uniforme no IDEB. É possível que nos próximos meses a cidade receba dirigentes municipais de educação de todo o país interessados em conhecer in loco experiência tão exitosa. O prefeito municipal, Paulo Mac Donald Ghisi, que encerra o segundo mandato no dia 31 de dezembro próximo, poderá tornar-se um requisitado palestrante em eventos sobre reformas educacionais.
Antes que gestores municipais de todo o país se disponham a pagar caras consultorias para fazer um estudo de caso sobre o projeto educacional que transformou Foz do Iguaçu em celeiro de escolas de excelência, segundo o IDEB, creio que vale a pena apresentar, ainda que de forma preliminar, os principais ingredientes da receita aplicada com sucesso pela rede municipal. Quem vier a Foz em busca de um modelo inovador de reforma educacional corre o sério risco de ficar desapontado, pois todas as políticas adotadas pelo município já fazem parte de receitas consagradas e testadas com sucesso em outros lugares.
A maior novidade talvez esteja na aposta em medidas convencionais, de eficácia já comprovada, ao invés de inventar projetos mirabolantes e caros. Foz do Iguaçu está demonstrando que é possível universalizar o atendimento e garantir ensino de qualidade investindo apenas 25% das receitas municipais na Educação. Basta uma gestão municipal séria e competente que aplique bem os recursos escassos da educação.
Resumimos aqui 10 lições que podem ser aprendidas com a política educacional que colocou as escolas municipais de Foz do Iguaçu em primeiro lugar no Paraná e entre as melhores escolas públicas do País.
Lição nº 1: Prefeito comprometido com educação de qualidade
A obstinação do prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo Mac Donald Ghisi, em promover a melhoria da rede municipal de ensino foi determinante para criar as condições que catapultaram o IDEB. Influenciado pelas idéias de Leonel Brizola, ele transformou a educação na prioridade dos seus dois mandatos consecutivos como prefeito. Trombou até com MEC para criar um modelo próprio de creche. Conseguiu provar que com os mesmos recursos liberados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para construir uma unidade padrão para atender 120 crianças, era possível construir um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) com capacidade para atender mais 300 de crianças. Com a lógica cartesiana de engenheiro, privilegiou soluções práticas e baratas, calculando na ponta do lápis todos os custos da educação. Por exemplo, a merenda escolar servida para as cerca de 30 mil crianças atendidas nas escolas e CMEIs tem um custo unitário de cerca de R$ 0,60, sem incluir mão-de-obra, um quarto do custo de merenda fornecida por terceirizados em outros municípios da região. Quando chegam nas escolas do município pela manhã, nos bairros mais pobres da cidade, as crianças são recebidas com um desjejum básico: pão, goiabada e leite de soja. É assim que começa uma jornada típica de aprendizagem nas escolas da rede municipal que foi o grande destaque do IDEB 2011.
Lição nº 2: Investimentos na melhoria da infraestrutura escolar
A melhoria da infraestrutura da rede municipal de Foz do Iguaçu foi notável nos últimos oito anos. Além de reformar os prédios depreciados herdados das administrações anteriores, o atual prefeito, construtor por profissão, empreendeu um ambicioso plano de ampliação da rede municipal, criando um novo padrão de escola pública, com instalações funcionais e espaços para atividades no contraturno escolar. Nos últimos oito anos, 21 escolas passaram por reformas e ampliações que, em muitas delas, incluiu a construção de quadra poliesportiva. Mas a “menina dos olhos” do alcaide são as cinco novas escolas construídas pela sua administração. Todas as novas escolas são equipadas com piscinas, ginásio de esportes coberto, refeitório e espaços para atividades culturais no contraturno escolar. Igualmente significativos foram os investimentos realizados na ampliação e melhoria da rede de CMEIs: cinco deles passaram por pequenas reformas e 15 foram reformados e ampliados para aumentar a sua capacidade de atendimento. A ampliação da rede de CMEIs contabiliza a construção de quatro novas unidades já em funcionamento, outras três em fase final de construção e outras quatro com recursos já garantidos para início da construção ainda neste ano. Estão planejados outros cinco CMEIs que dependem ainda da liberação de recursos do FNDE.
Lição nº 3: Profissionalização da gestão educacional
A Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu ganhou uma gestão profissional na atual administração, com autonomia para implementar a reforma da rede municipal de ensino. A Secretária Municipal de Educação, Joane Vilela, no cargo desde o início de 2008, é professora da rede municipal e ex-diretora da escola. Com esta experiência, sabia exatamente quais eram as queixas mais comuns das escolas em relação ao órgão central do sistema e tratou logo mudar a sua forma de atuação. Uma das suas primeiras iniciativas foi formar uma equipe multidisciplinar comprometida com o projeto de melhoria da qualidade da educação para prestar apoio às escolas. O segundo passo foi criar uma nova cultura de gestão escolar, baseada no estabelecimento de metas de desempenho para cada escola da rede municipal. O IDEB, criado a partir de 2005, serviu como indicador para mensurar os progressos obtidos. Mas a própria secretária se apressa em esclarecer que as metas vão muito além das melhorias captadas por esse índice: “Os professores estão motivados e dispostos não só a melhorar o índice do IDEB, mas também a qualidade do ensino.”(1) O que ninguém discute é que a Secretaria Municipal de Educação conseguiu mobilizar todas as escolas e seus agentes (diretores, professores, estudantes e pais) para mudar o panorama da educação no município. Os resultados estão aí para o país ver.
Lição nº 4: Autonomia da escola
Um mantra repetido pelos advogados de reformas educacionais é autonomia escolar.
Os sistemas públicos de ensino, sejam estaduais ou municipais, são, em geral, altamente centralizados e burocratizados, o que parece contribuir para o fracasso de muitas tentativas bem intencionadas de reformas de cima para baixo. Em Foz do Iguaçu, as escolas municipais devem seguir as diretrizes da Secretaria Municipal da Educação, mas gozam de autonomia para propor e implementar estratégias e métodos próprios de ensino. Trata-se, obviamente, de uma autonomia limitada, mas suficiente para incentivar duas coisas muito positivas: a liderança proativa das diretoras das escolas e o envolvimento efetivo dos professores no planejamento escolar. A Secretaria Municipal de Educação, por sua vez, atua como facilitadora e provedora de apoio pedagógico às escolas, disponibilizando para isso uma equipe multidisciplinar, com participação de profissionais da área de saúde (psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos), para cada uma das cinco regiões da cidade. Este trabalho integrado entre as áreas de educação, saúde e assistência social, viabilizando por meio do Projeto “Construindo a Cidadania”, implantando desde 2009, com verbas federais, tem sido fundamental para manter na escola e garantir a aprendizagem de crianças em situação de vulnerabilidade social. Outra iniciativa importante é o Prêmio Paulo Freire, que já está na sua sexta edição. Idealizado pela Secretaria Municipal de Educação, este prêmio incentiva, reconhece e valoriza o envolvimento dos professores em projetos inovadores orientados para o objetivo de criar novas situações de aprendizagem para os estudantes no desenvolvimento do currículo escolar.
Lição nº 5: Formação e valorização dos professores
Este é o lugar-comum mais repetido por educadores de todos os naipes ideológicos: sem professores bem preparados e motivados não haverá escola de qualidade. O difícil é passar do discurso para uma política efetiva de qualificação e valorização dos professores. Foz do Iguaçu parece ter encontrado o caminho, sem projetos mirabolantes. “Não há como falar de desenvolvimento do aluno sem citar os esforços dos professores, que tiveram iniciativa e boa vontade”, atesta a diretora da Escola Municipal Santa Rita de Cássia, Shirlei Ormenese de Carvalho, ao explicar o primeiro lugar nacional no IDEB. A Secretária Municipal de Educação concorda: “O grande destaque sem dúvida foi a motivação dos professores, a tomada de decisão, fizeram trabalho diferenciado no trabalho coletivo. Tivemos apostilas, realizamos simulados, reforço e equipe multidisciplinar, avaliação por desempenho, nada teria acontecido se não fosse o empenho dos professores”. O reconhecimento dos pais vem na mesma direção, criando um poderoso incentivo ao trabalho docente. Finalmente, não pode ser negligenciada a importância da valorização salarial. Neste quesito, os avanços foram modestos, reconhece a secretária. A principal inovação foi a instituição por lei municipal do 14º salário como prêmio pelo resultado no IDEB. A premiação é dada por escola, o que constitui um poderoso incentivo ao esforço coletivo. Mais um acerto, pois muitas políticas de pagamento por mérito derrapam justamente por pretender premiar o desempenho individual, não levando em conta que uma boa escola é resultado de trabalho em equipe.
Lição nº 6: Engajamento dos pais na vida escolar
Promover a participação dos pais na vida escolar é outra recomendação repetida à exaustão pelas cartilhas sobre reformas educacionais que deram certo em outros países. Como fazer é outros quinhentos. O bom desempenho das escolas municipais de Foz do Iguaçu parece confirmar que o apoio dos pais faz toda a diferença. Com a palavra mais uma vez a diretora da escola campeã nacional do IDEB: “A [nossa] escola é pequena e contamos com muitos alunos de outros bairros, e vemos que os pais motivam, trazendo os alunos em outros horários para as aulas de reforço. É um tratamento recíproco [entre a escola e os pais].” A percepção dos pais também mudou, conforme atesta o depoimento da mãe de uma aluna que passou pela Escola Santa Rita de Cássia: “A gente percebe que os professores são bastante empenhados e isso reflete nos alunos. Minha filha estudou desde cedo na escola e sempre foi muito bem atendida. A escola merece esse prêmio.” Os próprios alunos reconhecem o empenho da escola em atender as suas necessidades e as expectativas dos pais, formando um círculo virtuoso: “Os professores e a diretora trabalhavam muito bem com a gente e queriam nossa melhoria”, recorda uma ex-aluna da Escola Santa Rita de Cássia, que fez a Prova Brasil de 2011.
Lição nº 7: Educação é essencialmente um trabalho coletivo
Uma andorinha só não faz verão, ensina o provérbio popular, que também se aplica com perfeição à educação. Como no futebol, para usar outra metáfora, na educação também não se ganha o jogo sozinho. Uma tentação comum que acomete os políticos demagogos é prometer solução fácil para problema complexo. Definitivamente, melhorar a escola pública não é um problema dos mais fáceis de resolver. Por isso, é melhor desconfiar de promessas milagrosas. Foz do Iguaçu fez o dever de casa, com persistência e obstinação, e agora está começando a colher os resultados. A política educacional adotada no município parte da premissa que uma boa escola se faz mediante esforço e trabalho de equipe. A premiação pelo desempenho no IDEB, na forma de um 14º salário, é para a escola, beneficiando todos os que nela trabalham, da diretora à merendeira. Os professores são estimulados a desenvolver soluções coletivas e criativas. Uma das estratégias mais bem-sucedidas adotada pela Escola Santa Ria de Cássia foi colocar duas professoras para dividir a tarefa de ensinar os alunos do 5º ano, aproveitando melhor as competências de cada uma em disciplinas e áreas específicas do currículo. “Duas professoras vieram com a idéia de dividir as aulas da 4ª série (5º ano), porque tinham mais afinidades com matérias diferentes. Aceitamos o desafio e as turmas responderam muito bem”, relata a diretora, atribuindo a esta iniciativa adotada há três anos os bons resultados que estão sendo colhidos agora.
Lição nº 8: Aulas de reforço no contraturno escolar
Visto com desconfiança por muitos educadores como uma medida paliativa para corrigir deficiência do ensino, o reforço escolar pode ser uma medida eficaz para prevenir atraso na aprendizagem e evitar a reprovação. Uma das características distintivas da Escola Santa Rita de Cássia é a oferta regular de aulas de reforço no contraturno escolar. “Os alunos com dificuldade [de aprendizagem] vinham à escola durante toda a semana receber aulas [de reforço] no contraturno, e os que estavam bem, vinham apenas uma vez, para que ficassem ainda melhor”, repete a diretora, assustada com o súbito estrelado. “Viramos celebridade e ainda bem que é por uma notícia boa”, orgulha-se. Com a oferta regular de aulas de reforço, a taxa de reprovação caiu dramaticamente. “Temos 200 alunos e apena um deles reprovou no ano passado, acho que isso também refletiu na média, que era para ter sido maior ainda”. De fato, o IDEB é um índice composto que leva em conta a taxa de aprovação e a nota obtida pelos alunos na Prova Brasil. Ao derrubar as taxas de reprovação com medidas simples, como aulas de reforço, as escolas municipais de Foz do Iguaçu somaram pontos preciosos no IDEB. E m 2011, a taxa de aprovação no 5º ano foi de 100% em 44 das 51 escolas da rede, sem promoção automática.
Lição nº 9: Uma boa educação começa pela base
A pequena revolução educacional realizada pela atual administração de Foz do Iguaçu tem sido comandada por um prefeito que às vezes insiste em ser turrão e teimoso, sobretudo quando se trata de defender sua convicção férrea de que as desvantagens iniciais de crianças pobres não são um obstáculo intransponível para a aprendizagem e o sucesso escolar. Os resultados alcançados pelas 51 escolas municipais no IDEB 2011 parecem confirmar sua tese. Para prová-la, ele investiu pesadamente na expansão da rede de CMEIs, que hoje atende cerca de 11 mil crianças de 0 a 6 anos. Com excelente infraestrutura física e bom atendimento, as creches do município deixaram de ser “depósito de criança”, para assumir sua função educativa. “Nossas crianças estão sendo alfabetizadas a partir dos dois anos”, exagera o prefeito, um entusiasta do método fônico de alfabetização. Aliás, a ênfase na alfabetização é uma das suas obsessões, a tal ponto que o fundo das piscinas das escolas é decorado com as letras do alfabeto para que as crianças possam ir se familiarizando com elas ludicamente. O que não dá para negar é que este trabalho de base está mudando a trajetória de milhares de crianças de famílias de baixa renda, mitigando desde a primeira infância os impactos que as gritantes desigualdades sociais têm na trajetória escolar. Imodesto com os resultados do IDEB, o prefeito promete desconstruir as “teses acadêmicas” que insistem em mostrar a forte correlação existente entre rendimento escolar e condições socioeconômicas. Na realidade, sua reforma já está demonstrando que uma escola pública de qualidade é o melhor antídoto para o fracasso escolar e a exclusão social.
Lição n 10: O aluno deve ser o centro do processo de ensino-aprendizagem
Parece óbvio ululante que toda escola que se preze deve colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. Afinal, a missão da escola é educar. O que varia é o que se compreende por uma boa educação. Um risco comum associado a sistemas centralizados de avaliação, como a Prova Brasil, aplicada a cada dois anos para alunos do 5º e do 9º ano do ensino fundamental, é incentivar as escolas a “ensinar para o teste”. As escolas municipais de Foz do Iguaçu sucumbiram a esta tentação e, por incentivo da Secretaria Municipal de Educação, passaram a utilizar apostilas e aplicar simulados da Prova Brasil. A preparação para este teste que – combinado com a taxa de aprovação – serve para calcular o IDEB, pode acarretar o empobrecimento do currículo e resultar numa educação mecanicista que não preparar os estudantes adequadamente para as etapas subsequentes da sua trajetória escolar. A melhor maneira de evitar que isso ocorra é seguindo à risca a posição defendida pela Secretária Municipal de Educação, Joane Vilela, para quem os esforços devem ser direcionados “não só a melhorar os índices do IDEB, mas também a qualidade do ensino”. O próprio MEC reconhece as limitações da metodologia do IDEB para aferir a qualidade do ensino. Portanto, o aumento do IDEB deve vir como reflexo de uma política educacional que coloca o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem e não como finalidade última de uma política que privilegia a preparação para o teste, numa imitação grotesca de cursinhos pré-vestibulares.
O próximo desafio
Os mesmos resultados do IDEB 2011 que trouxeram excelentes notícias para os pais cujos filhos freqüentam as 51 escolas municipais de Foz do Iguaçu, também trazem motivos de grande preocupação. Afinal, o segundo ciclo do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), está a cargo de escolas estaduais que tiveram desempenho sofrível no IDEB. O contraste entre as notas obtidas pelas escolas municipais e estaduais não poderia ser mais alarmante. Enquanto o IDEB das escolas municipais de Foz variou entre 6,2 e 8,6, nas 27 escolas estaduais de ensino fundamental as notas se distribuíram entre 2,4 e 5,8, com a maioria delas situando-se abaixo de 4,0. Uma calamidade!
Um aluno que neste ano está matriculado no 5º ano do ensino fundamental numa escola municipal de Foz do Iguaçu, em 2013 irá obrigatoriamente para uma escola estadual, onde encontrará um nível de ensino significativamente inferior ao que vem recebendo. É o que mostra o IDEB, de forma consistente e contundente. Todo esforço realizado pelas escolas municipais para formar uma base sólida na primeira etapa do ensino fundamental poderá ser perdido, caso seja mantido o brutal desnível entre as duas redes revelado pelo IDEB. O que acontecerá com os alunos que sairão de boas escolas municipais para prosseguir seus estudos em escolas estaduais ruins? Já dá para prever os resultados: aumento das taxas de reprovação e evasão e, como corolário, fracasso escolar. É o que já acontece. No ensino médio, a situação só piora.
O abismo revelado pelo IDEB entre a qualidade de ensino oferecido pelas escolas das redes municipal e estadual de Foz do Iguaçu chama a atenção para um problema que terá que ser enfrentado. A municipalização completa do ensino fundamental é a melhor solução. Uma emenda constitucional poderá facilitar o caminho para esta transição, já que hoje a oferta do ensino fundamental público é responsabilidade compartilhada de Estados e Municípios.
O IDEB pode servir como “medida” da capacidade e competência dos municípios para assumir integralmente o ensino fundamental. Municípios cujas escolas alcancem níveis de desempenho satisfatório no IDEB, como é o caso notório de Foz do Iguaçu, estariam aptos a assumir a gestão das escolas estaduais de ensino fundamental. Obviamente, a transferência de responsabilidade deve vir acompanhada da transferência correspondente de recursos. Com o Fundo de Desenvolvimento de Manutenção da Educação Básica (FUNDEB), os repasses de recursos estão assegurados. Mais complexa será a negociação para cessão em comodato de prédios escolares e transferência de pessoas. Nada que não possa ser resolvido com bom senso e regras claras, que preservem os direitos dos trabalhadores em educação.
O que não dá é para fingir que a situação atual atende aos interesses dos alunos e da sociedade. O Estado deveria se ocupar exclusivamente do Ensino Médio, que vai muito mal, segundo o IDEB, facilitando a transferência das escolas de ensino fundamental para os municípios que, como Foz do Iguaçu, já provaram que sabem gerir melhor as escolas públicas. Este é o desafio que a próxima administração municipal terá que enfrentar. Se o controle das escolas públicas virar objeto de disputa política, os alunos serão as principais vítimas.
——————————————————————————————————————
(*) Paulino Motter, especialista em políticas públicas e gestão governamental, atualmente cedido à ITAIPU Binacional, onde exerce o cargo de consultor do Diretor-Geral Brasileiro. É mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB) e doutor em Educação pela Universidade de Wisconsin-Madison (EUA). Foi chefe de gabinete do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), instituição vinculada ao Ministério de Educação, responsável pelo IDEB.
Todas as declarações reproduzidas neste artigo foram extraídas de reportagens publicadas pelos jornais Gazeta do Iguaçu e Gazeta do Povo na edição de 15/08/12, exceto as declarações do prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo Mac Donald Ghisi, dadas em conversa pessoal com o autor.
 A interpretação de André Lara Resende sobre as causas do mal estar contemporâneo recebeu algumas críticas, entre as quais a do economista Samuel Pessoa, que transcrevo a seguir:
A interpretação de André Lara Resende sobre as causas do mal estar contemporâneo recebeu algumas críticas, entre as quais a do economista Samuel Pessoa, que transcrevo a seguir: